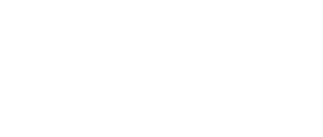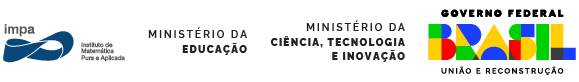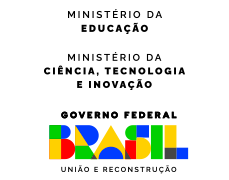Imbuzeiro: 'O que fazer com a hidroxicloroquina?'
Reprodução do blog do IMPA Ciência & Matemática, de O Globo, coordenado por Claudio Landim
Roberto Imbuzeiro – Pesquisador titular do IMPA
“Hidroxicloroquina” é uma palavra com dezessete letras e milhões de admiradores. Em meio à pandemia da COVID19, os relatos de pacientes brasileiros que teriam sido curados por essa droga são um sopro de esperança para muita gente.
Por isso mesmo, ressalvas ao remédio têm sido muito criticadas nas redes sociais. Por exemplo, a Unicamp vem sendo atacada por uma nota que diz que o uso dessa droga para tratar a COVID19 ainda não tem comprovação científica [1].
Leia também: ‘Isolar assintomáticos teria efeito de imunidade de rebanho’
Na Folha, Viana fala sobre suas lembranças de John Conway
Ricardo Castilho defende tese de doutorado por videoconferência
Neste artigo, você entenderá o que seria a comprovação científica de que a Unicamp fala. Como veremos, a verdade é que, no momento, nenhum tratamento para a COVID19 tem esse selo de qualidade. Como lidar com essa lacuna é o assunto do final do texto: com a urgência que temos, é ou não boa ideia liberar logo os tratamentos com hidroxicloroquina de forma mais ampla?
Das dificuldades de testar um tratamento: segurança, incertezas e placebos
À primeira vista, parece fácil testar um novo tratamento para uma doença: basta pegar um grupo de doentes, aplicar o tratamento neles e ver o que acontece. Acontece que as coisas não são tão simples, por várias razões.
Em primeiro lugar, nem todo tratamento é seguro: quase toda substância que pode curar também pode fazer mal. Por isso, o primeiro objetivo na avaliação de um tratamento é determinar o quanto de estrago ele pode causar.
Descontado esse perigo, vê-se que tratar todo o grupo não é tão informativo assim. É preciso comparar o método novo com tratamentos antigos, ou com não fazer nada. Por exemplo, a gente sabe que a COVID19 normalmente se cura sozinha. Se testo uma droga e vários doentes se curam, será que o remédio funcionou, ou a doença simplesmente se resolveu sozinha nos meus pacientes?
Outra dificuldade na avaliação de tratamentos é o acaso. Desde tempos antigos, sabe-se que há algo de imprevisível na reação de um paciente a uma intervenção médica. Por isso, um tratamento bom pode não curar um certo doente, e um tratamento mau pode não deixá-lo pior. A questão matemática de fundo é como podemos medir o efeito do tratamento em meio à sorte ou azar dos doentes.
A seleção dos pacientes para o teste é outro ponto fundamental: o grupo escolhido deve representar bem a população a que o tratamento se destina. Vejamos dois casos em que isso não acontece. No primeiro, a amostra é escolhida num hospital de elite, em que os pacientes já terão de saída uma saúde melhor que a média brasileira. Num outro exemplo, se o médico que propõe o tratamento novo escolhe os doentes para o teste, pode acontecer que, sem querer ou de propósito, ele selecione pacientes com quem tem mais chance de ter sucesso (acredite: há registros disso na literatura). Em geral, escolher pacientes ao acaso é a maneira de evitar problemas, mas isso acrescenta mais uma camada de Matemática.
Uma última questão que complica os testes de tratamentos é o estranho fenômeno chamado de “placebo”. Desde o século XIX, tem sido observado que um doente pode melhorar só porque pensa que está sendo cuidado. Por isso, mesmo um tratamento ineficaz pode produzir uma falsa melhora nos pacientes. Como fazemos para o placebo não nos enganar?
O padrão-ouro dos testes de remédios
A metodologia para lidar com os problemas, aprimorada ao longo do século XX, combina bom-senso médico com o poder da Estatística e da Matemática subjacente.
Pra começar, todo novo tratamento é testado em indivíduos saudáveis, para que seu “potencial para o mal” seja avaliado. Se há um perigo grande, tudo para por aqui. Se não, passa-se a testes com doentes, até chegar a um“ensaio clínico randomizado com controle duplo-cego”. Este é o padrão-ouro na avaliação de novos tratamentos, e nós veremos a seguir do que se trata.
Pense que queremos testar a eficácia de um comprimido novo para uma certa doença. Para isso, os pacientes selecionados para o ensaio serão divididos em dois grupos. O grupo 1 será tratado com o novo comprimido. O grupo 2 receberá comprimidos aparentemente idênticos aos do grupo 1, mas que ou não têm efeito, ou são feitos com algum remédio que já vem sendo usado.
No fim do ensaio, iremos avaliar o novo comprimido vendo como cada grupo se sai. Um ponto crucial é tanto os pacientes, quanto os profissionais que administrando o tratamento estão “cegos”: eles não sabem quem faz parte de cada grupo e, por isso, não têm ideia de quem efetivamente recebe o novo remédio. Deste modo, a expectativa é que o efeito placebo aja por igual em todos os pacientes, não afetando a comparação dos grupos.
Além de “cego”, é fundamental que o ensaio seja “randomizado”. Imagine que os pacientes do ensaio são uma amostra representativa da população de doentes. Se, além disso, eles são divididos nos dois grupos de forma aleatória, então a Estatística Matemática garante que os dois grupos também são amostras representativas da população. Por um lado, isso quer dizer que grupo 1 representa de forma aproximada o que aconteceria com toda a população doente, se fosse tratada com o novo comprimido. Por outro lado, o grupo 2 mostra o que aconteceria com toda a população doente se fosse usado outro tratamento, ou tratamento nenhum.
No fim do experimento, é necessário cuidado para concluir se o comprimido “funciona” ou não: afinal, os números podem vir carregados de acaso e incertezas. Nesse momento, a Estatística Matemática entra em cena de novo, permitindo o cálculo de “margens de erro” que quantificam em que medida os resultados podem depender da sorte. O que isso significa é que o tratamento novo só passa no teste quando há mais curados no grupo 1 que no 2 e, além disso, a diferença entre os grupos é maior do que a margem de erro. Se isso não acontece, então, para todos os efeitos práticos, o novo tratamento é equivalente ao tratamento alternativo ou placebo usado no segundo grupo.
Devemos esperar pelo padrão-ouro?
Infelizmente, nenhum tratamento para COVID19 foi avaliado da forma que acabo de descrever. Isso explica a nota da Unicamp a respeito da hidroxicloroquina e as manifestações semelhantes de várias outras entidades [2]. Com a pressa da pandemia, há uma mobilização muito grande no mundo para avaliar diversos métodos o mais rapidamente possível. Graças a isso, os testes poderão levar meses, em vez dos anos que costumam demorar. Mesmo assim, ainda teremos de esperar.
Na ausência de uma conclusão mais firme, muitos médicos e pacientes já têm optado por usar a hidroxicloroquina em combinação com outras drogas. No Brasil e nos Estados Unidos, as normas dos órgãos responsáveis tratam de pacientes em estado intermediário ou grave. Nesses casos, o risco da doença já seria maior do que o do tratamento, valendo a pena apostar.
Por outro lado, o uso da droga nos estágios iniciais da doença é bem mais restrito. O virologista Paolo Zanotto, da USP, especialista de renome internacional em sua área, tem defendido uma liberação muito mais ampla do uso dehidroxicloroquina e azitromicina combinadas nos estágios iniciais da COVID19 [3]. O professor já está ativo no combate à pandemia há algum tempo; por exemplo, ele defendeu medidas de isolamento social [4]. Agora, ele vem ajudando a formular um protocolo médico para o tratamento precoce da doença.
O professor sustenta a liberação ampla do seu tratamento com base em três argumentos. O primeiro é que, enquanto o uso precoce da hidroxicloroquina com azitromicina parece eficaz e bastante seguro, seu uso em casos graves não é tão proveitoso.
O segundo argumento é o longo histórico da hidroxicloroquina no combate de outras doenças. É uma droga velha, criada para combater a malária e hoje usada contra artrite reumatoide e lúpus. Por isso, tem riscos conhecidos, que são evitados pelo protocolo de tratamento defendido pelo professor Zanotto.
Como terceiro argumento, o professor compara a pandemia a uma “situação de guerra”, em que só a ação imediata pode impedir mortes e sequelas. Argumentos semelhantes a esse último foram usados no passado: por exemplo, o AZT foi liberado para pacientes de AIDS antes dos ensaios clínicos cabais.
Devemos aceitar a proposta do professor? Não sou da área biomédica; minha única credencial é conhecimento da Matemática e da Estatística por trás do assunto. No entanto, como cidadão que conhece algo sobre testes de remédios, a minha impressão é de que ainda é necessário cuidado.
Vamos supor que realmente não podemos esperar um ensaio clínico randomizado com controle duplo-cego. Ainda assim, os princípios de prudência embutidos nesses testes continuam razoáveis. Nesse sentido, a metáfora de “guerra” parece um pouco exagerada. O tratamento precoce atingiria pacientes que, em sua enorme maioria, se curariam sem precisar da hidroxicloroquina. Vale a pena assumir o risco do tratamento desconhecido em todos esses casos, para conseguir uma taxa de cura ainda mal entendida?
Para ler o texto na íntegra acesse o site do jornal
Leia também: Tecnologia ajuda IMPA a manter atividades durante pandemia
‘Da pandemia ao pandemônio’: desafios por mães na ciência