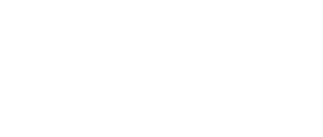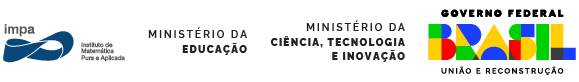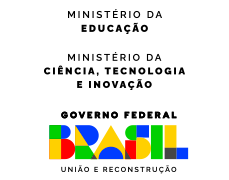‘A matemática salvou minha vida’, diz brasileira em Stanford
“Quando eu era criança, não era boa na escola, odiava estudar e achava que não era inteligente.” O relato, comum a muitos estudantes, é da paulistana Alessandra Maranca, hoje com 18 anos. Além de enfrentar dificuldades pedagógicas, a jovem sofreu bullying e passou por um episódio de violência sexual dentro do colégio, o que acabou por desencadear nela um quadro depressivo. Foi nas aulas de robótica, no sexto ano do Ensino Fundamental, que tudo mudou.
“Para participar dos torneios de robótica, não podia ficar em recuperação, então passei a estudar muito mais. Foi aí que me apaixonei pela matemática e pela escola”, contou Alessandra, em depoimento ao Universa, do UOL. “A matemática me deu a oportunidade de me ver como capaz, como ser humano, de descobrir algo que eu amo fazer. Acho que ela me salvou da depressão que passei na pré-adolescência.”
Leia mais: ‘Matemática é uma mina de ouro inesgotável’, diz Marcelo Viana
Marcelo Viana fala sobre Euler e a imperatriz da Rússia
Medalhista da zona rural do TO encoraja colegas na OBMEP
Esse estado de tristeza permanente começou depois que Alessandra sofreu uma tentativa de estupro. Ela tinha 11 anos e foi vítima de um aluno mais velho. O despertar para a matemática e a dedicação aos estudos a salvaram do período sombrio que se seguiu. “Sinto que o meu ensino médio foi muito melhor do que o fundamental, porque aí passei a ver um propósito em estudar. Não estava tudo perdido”, revela.
Em 2017, Alessandra conquistou uma medalha de ouro na Olimpíada Canguru de Matemática e, logo em seguida, ela fez vestibular para cursar direito na USP, pressionada pelos pais. “Queria trabalhar com pesquisa, mas eles diziam que eu ia passar fome.” Mesmo aprovada em direito, fez a inscrição no Sisu para concorrer a uma vaga no Instituto de Matemática e Estatística, também da USP, e passou. A carreira de advogada desejada pela família ficava definitivamente para trás.
Alessandra foi adiante. Decidiu estudar fora do Brasil. “Foi algo bem despretensioso, porque achava que não ia passar em lugar nenhum.” Para sua surpresa, foi aceita na Universidade Stanford, uma das mais prestigiosas do mundo. É na Califórnia que ela vive desde o início do ano.
O caminho, que não foi nada fácil até aqui para a graduanda, ainda tem muitos desafios. Uma dificuldade é lidar com o fato de ser minoria em uma sala de aula masculina. Forte, Alessandra deixa um recado para as meninas que buscam as carreiras de exatas. “Hoje, diria “que não desistam, que não tenham dúvidas sobre elas mesmas. Os caras vão sempre mostrar autoestima, afirmar algo com confiança, mesmo que não tenham certeza. É importante que a gente não deixe a nossa cabeça nos sabotar.”
Confira o relato de Alessandra Maranca na íntegra
“Sofri tentativa de estupro e quis morrer; matemática salvou a minha vida”
“Eu tenho 18 anos, e hoje estudo matemática na Universidade Stanford, na Califórnia (EUA), onde sou a única latina em meio a homens brancos ou asiáticos. Aos 11, sofri uma tentativa de estupro dentro do colégio, e esse sofrimento me deixou imobilizada de tristeza. Cheguei a buscar remédios para me matar. Sou uma sobrevivente, e a matemática tem muito a ver com isso.
Quando eu era criança, não era boa na escola, odiava estudar e achava que não era inteligente. Minhas irmãs sempre foram estudiosas, e meus pais diziam que eu era a filha criativa. Na pré-adolescência, passei por uma fase horrível, sofri muito bullying, tive bulimia. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, estava longe da minha mãe e me sentia muito deprimida. No sexto ano do ensino fundamental, comecei a ter aulas de robótica e isso mudou a minha vida. Achei demais. Para participar dos torneios, eu não podia ficar em recuperação, então passei a estudar muito mais. Foi aí que eu me apaixonei pela matemática e pela escola.
‘Nenhum dos meus amigos acreditou em mim’
Nessa época, sofri uma tentativa de estupro na sala de robótica, de um aluno um pouco mais velho que eu. Ele era líder de programação do robô em que a gente trabalhava. De um dia para o outro, parei de ir para a escola e para os treinos de robótica. Todo mundo achou estranho, e eu tive que contar para o meu professor. Na diretoria, falaram que o garoto seria expulso, mas alguns anos depois eu soube que, na verdade, ele só foi convidado a se retirar, não ficou nada na ficha dele. Nenhum dos meus amigos acreditou em mim. Isso foi muito difícil. Naquela época, o feminismo não era tão popular, e a gente não tinha maturidade para lidar com esse tipo de situação.
O que eu sentia passou de tristeza. A saudade da minha mãe, que morava em outra cidade, virou algo muito mais forte, que me imobilizou. De um dia para o outro, eu não conseguia mais sair da cama. Eu tinha 11 anos, e cheguei a procurar, na casa da minha avó, remédios para me matar. Eu precisava muito de apoio, e acabei pedindo ajuda para os adultos que estavam ao meu redor. Mandava e-mails para a coordenação da escola, que cuidou de mim. Eu não fazia terapia, então acabei usando os recursos que eu tinha.
Sinto que o meu ensino médio foi muito melhor do que o fundamental, porque aí passei a ver um propósito em estudar. Não estava tudo perdido.
A matemática me deu a oportunidade de me ver como capaz, como ser humano, de descobrir algo que eu amo fazer. Acho que ela me salvou da depressão que passei na pré-adolescência.
Eu me encantei por padrões matemáticos para estudar suicídio. Aos 13 anos, entrei em um projeto de pesquisa em sociologia e decidi, ao lado de duas amigas, estudar saúde mental e suicídio entre jovens. Foi um projeto de quatro anos, porque a gente ganhou uma bolsa de iniciação científica. A ideia do projeto surgiu das nossas próprias experiências, de tentar entender o porquê, desde tão novas, tínhamos problemas de saúde mental, depressão, bulimia, anorexia. Isso não é normal.
No primeiro ano de pesquisa, a gente procurou entender mais sobre método científico. Estudamos muito sociologia, saúde mental, coleta de dados e psicologia social para elaborar os questionários. Foram mais de 2.000 formulários, tudo em papel, respondidos por alunos de escolas públicas e privadas. Aí eu tive que aprender a fazer análise, porque a minha equipe estava contando comigo para transformar aqueles dados em algo tangível, obter dados muito limpos de como cada fator impacta na saúde mental dos jovens.
Comecei a estudar programas e estatística por conta própria, e me apaixonei pela ideia de criar um modelo matemático para estudar um fenômeno. Decidi que queria cursar matemática.
‘Passei para universidade nos EUA e saí em busca de bolsa’
Quando chegou o momento do vestibular, meus pais me obrigaram a prestar para a Faculdade de Direito São Francisco, da Universidade de São Paulo. Eu queria trabalhar com pesquisa, mas eles diziam que eu ia passar fome. Acabei passando em direito e, no dia em que saiu o resultado da Fuvest, me inscrevi no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para concorrer a uma vaga no IME (Instituto de Matemática e Estatística, também da USP). Fui aprovada, e optei pela matemática.
Logo depois, decidi me candidatar para universidades fora do país. Foi algo bem despretensioso, porque achava que não ia passar em lugar nenhum. Em abril, quando já estava na USP, saiu o resultado: fui aceita na Universidade Stanford, na Califórnia. Só que a bolsa não era suficiente. Foi aí que eu comecei a pesquisar loucamente. Eu já tinha conseguido a vaga, mas precisava encontrar uma forma de me financiar lá.
Nesse momento, descobri que a seleção para o Programa de Líderes, da Fundação Estudar, estava com inscrições abertas. Mas eu tinha só um dia para preencher tudo. Passei em todas as etapas do processo seletivo, e acabei me apaixonando pelo programa, que me deu a bolsa e garantiu a minha vinda para os Estados Unidos.
Comecei o curso em Stanford de forma virtual no segundo semestre do ano passado, por conta da pandemia, e este ano consegui entrar no país, depois de passar duas semanas no Equador.
‘No meu curso, maioria é de homens brancos ou asiáticos’
Na equipe de robótica da escola, eu era a única menina, e sentia que não respeitavam a minha opinião. Mesmo nos grupos com mais mulheres, vejo que a parte de programação acabava ficando para um homem. Os professores de matemática sempre foram muito gentis comigo. Um deles chegou a me ensinar cálculo no contraturno, e foi a primeira pessoa que respeitou a minha decisão de fazer matemática.
Na USP, é muito bizarro, porque nas aulas de licenciatura tem muitas meninas, mas em matemática aplicada e pura, que é abstrata, por demonstração, o choque é gigantesco. Na sala de 80 pessoas, você olha para trás e só vê homens.
Percebi que, quando um deles falava, todo mundo escutava; e quando era uma mulher, eles olhavam com uma cara de ‘coitada’. Eu chorava, porque não entendia um símbolo, mas no final do semestre, tirei a nota mais alta da minha turma em cálculo. Em Stanford, sinto que essa desigualdade é um pouco pior do que na USP. Na matemática, são poucas mulheres e nenhuma delas é latina, como eu. A maioria é de homens brancos ou asiáticos.
Eles têm um ‘complexo de gênio’, porque foram notados muito novos, identificados como prodígios e colocados em escolas especiais sempre com outros meninos. Conheço meninas inteligentíssimas, que não têm nenhuma autoestima por conta disso. A gente não se vê ali. Quando eu dava aulas no cursinho popular da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP), tinha alunas maravilhosas, mas que pensavam que a matemática não era para elas, porque os ‘gênios’ eram todos homens. Foi bom conseguir fazer com que elas não se assustassem tanto, que dessem uma chance à disciplina.
Hoje, eu diria a elas que não desistam, que não tenham dúvidas sobre elas mesmas. Os caras vão sempre mostrar autoestima, afirmar algo com confiança, mesmo que não tenham certeza. Então, é importante que a gente não deixe a nossa cabeça nos sabotar.”
Leia também: Pedro Campos e a matemática: uma serena história de amor
Em tempos virtuais, evento fala da ressignificação da presença